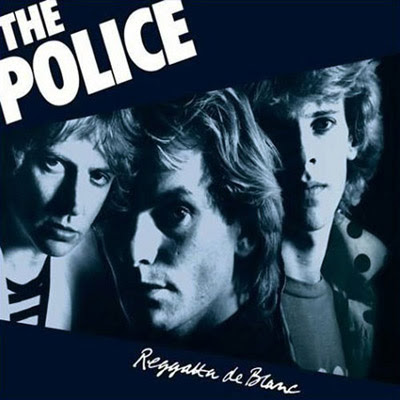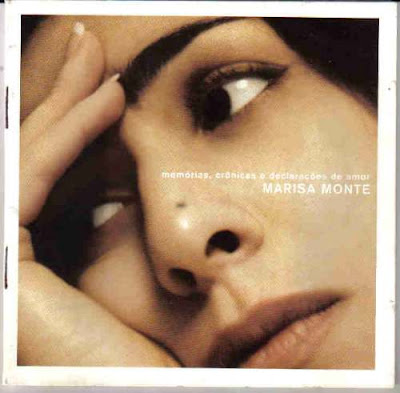Já tive a oportunidade de dizer, várias vezes, que, definitivamente,
eu não gostava dos filmes d’Os Trapalhões quando era criança. Conteudisticamente, eu me incomodava com um humor preconceituoso e chulo que, desde pequeno, eu já aprendi a rechaçar quando atrelado a pretensas boas intenções humanitaristas. Formalmente, eu me irritava por perceber que os tais filmes surrupiavam chavões genéricos de filmes hollywoodianos de sucesso. Por outro lado, eu gostava do programa de TV. Achava-o original, questionador da “parede invisível” e positivamente amoral, em muitas situações. Desgostava da liderança do personagem Didi Mocó (o eterno alter-ego de Renato Aragão), mas o programa de TV era genial, guardo saudades imensas dele...
Pois bem, meio por acidente, acabo de ver um dos filmes produzidos pelo quarteto original (além de Renato Aragão, estão lá o desenxabido Dedé Santana, o cachaceiro Mussum e o hilário e afetado Zacarias), um daqueles que eu não havia visto quando era criança: “O Cangaceiro Trapalhão” (1983, de Daniel Filho). E, para minha surpresa, gostei de muitos aspectos do filme, ao passo em que me surpreendi tanto com outros aspectos que ainda não sei sequer se gostei ou não...
No filme, Renato Aragão não é Didi Mocó. É Severino do Quixadá, um criador de cabras que, por acidente, se vê no meio da briga entre Lampião e a Volante. O primeiro é vivido por Nelson Xavier, que, junto a sua parceira Tânia Alves (Maria Bonita), repetem os papéis que o tornaram consagrados num clássico seriado da TV Globo. O comandante da segunda é vivido por José Dumont, num papel de traços exageradamente vilanescos. Entre eles, está Regina Duarte, como a injustiçada filha de um dono de terras, que é raptada pelo governador corrupto de uma cidadela. O resto é aquilo que já conhecemos, tendo muito a ver com o que li numa crítica sobre o filme, no que tange à intenção do quarteto em consolidar seu humor a partir de um
imaginário tipicamente nacional (a seca do Nordeste), valendo-se, por sua vez, de recursos de assimilação hipercodificada do ‘studio system’ hollywoodiano. Ou seja, para além das inúmeras referências a grandes faroestes de John Ford ou Sergio Leone, o protagonista despede-se de sua amada, apaixonada por outro, como sói acontecer nos filmes protagonizados por Renato Aragão na década de 1980, com a voz do dublador de Humphrey Bogart na TV brasileira, utilizando os mesmos diálogos finais de “Casablanca” (1942, de Michael Curtiz), ao som da canção-tema “As Times Goes By”. Eu ri com isso!
Porém, o que mais me chocou no filme não foi nem esta despedida plagiada nem a boa condução do roteiro (com diálogos escritos por Chico Anysio, entre outros colaboradores) no que tange aos problemas tipicamente do Nordeste da era do cangaço, mas sim uma seqüência mágica paralela em que Bruna Lombardi surge como uma bruxa que deseja uma pedra preciosa guardada por uma entidade lacustre no fundo de um poço, que seduz Severino pedindo que ele ande pelas paredes de sua casa como se fosse uma lagartixa. Uma seqüência largamente despropositada e até dissonante em relação à fidelidade contextual do filme, mas como me fascinou. Demasiado inaudita para passar impune!
Além do escândalo receptivo que esta seqüência mágica implanta, o filme possui vários aspectos bem-sucedidos, como a já citada fidelidade contextual e topográfica, as boas interpretações de um elenco veterano e a direção não subsumida unicamente às piadas chavonadas dos personagens, demasiado caricatos em relação ao que já faziam na TV. Ainda assim, não se pode deixar de emitir gargalhadas culpadas na seqüência em que Mussum tenta proteger uma garrafa de cachaça da fúria famélica de piranhas, que, afinal, são afastadas ao se embebedarem com a urina etílica do mesmo; na onomatopéia facilmente reconhecível (o “plim-plim” da TV Globo) que uma caixa metálica emite quando finalmente exibe o seu conteúdo; e em frases de duplo sentido do tal Severino do Quixadá, como “
vou tacar o mandacaru na rima” e “
estou com tanta fome que já estou comendo nas calças”. Mas, depois que a montanha em forma de galinha choca começa a pôr gigantescos ovos de ouro e o quarteto surge num iate luxuoso, cercado de mulheres perdulárias, a culpa voltou a ser mais forte que o som da gargalhada. Mas nada que a inventividade paródica do filme posterior do quarteto [o boníssimo “Os Trapalhões e o Mágico de Oroz” (1984, de Victor Lustosa & Dedé Santana)] não resolvesse...
Ah, sim, o título desta postagem? É proferido por Severino do Quixadá quando a bruxa interpretada por Bruna Lombardi pergunta se ele quer passar a eternidade ao lado dela. Apaixonado que ele está por Aninha, personagem de Regina Duarte (por sua vez, apaixonada por outra pessoa), ele recusa a oferta. Quando, porém, a meiga Aninha vai embora no cavalo branco montado por Tarcísio Meira, e Severino enriquece graças aos ovos de ouro, vemo-lo novamente ao lado da bruxa, agora aconchegada num iate. Na vida real, os nordestinos não têm esta segunda chance...!
Wesley PC>