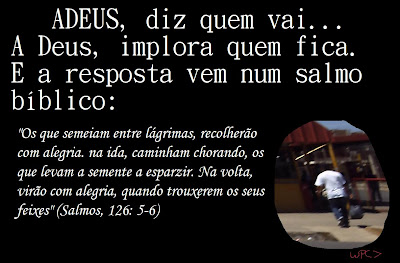“FINDEI AGORA O CAPÍTULO 201, O ÚLTIMO. O LIVRO HIPNOTIZOU-ME, [...]! ANTEVI O MEU PRÓPRIO FIM... SINTO CULPA? SINTO VERGONHA? SINTO QUE, SE SOU AGORA FELIZ, DEVO-O A TI”! (...)
“FINDEI AGORA O CAPÍTULO 201, O ÚLTIMO. O LIVRO HIPNOTIZOU-ME, [...]! ANTEVI O MEU PRÓPRIO FIM... SINTO CULPA? SINTO VERGONHA? SINTO QUE, SE SOU AGORA FELIZ, DEVO-O A TI”! (...)Meus últimos centavos de crédito telefônico foram destinados ao envio desta mensagem, compungido que eu estava por conhecer há tanto tempo a sinopse do livro batizado como “Quincas Borba” (1891), de Machado de Assis, mas que, quando consumido, revela uma pletora psicológica e social de personagens muito mais rica que a já surpreendente duplicidade do título. Se não
perfeito, digo do livro:
absolutamente genial!
Abusando da metalinguagem ainda mais do que ele próprio nos acostumara, o autor deste belíssimo romance lembra-nos que um dos personagens-título já surgira num romance anterior, aquele que merece a alcunha, não de todo precipitada, de “o melhor que Wesley já lera até então”. Este, aliás, destila, ainda no início, quando vivo, os fundamentos de sua crença no Humanitismo, doutrina que visa o equilíbrio da Natureza, mesmo que esta se parca cruel quando precisa exterminar uma tribo inteira para que uma outra tenha acesso a uma plantação salvaguardadora de batatas.
“Ao vencido, ódio ou compaixão; ao vencedor, as batatas”, está lá no capítulo VI, mas torna-se ainda mais sub-repticiamente explícita (se me permitem o oxímoro, caros leitores) no capítulo XC, onde lê-se:
“Oh! Precaução sublime e piedosa da natureza, que põe uma cigarra viva ao pé de vinte formigas mortas, para compensá-las”. E, quando estava eu ainda a me recuperar da genialidade desta passagem exemplar, acrescenta o autor, sem demora, em relação ao que anteriormente lemos: “
esta reflexão é do leitor. Do Rubião não pode ser. Nem era capaz de aproximar as coisas, e concluir delas – nem o faria agora que está a chegar ao último botão do colete, todo ouvidos, todo cigarra... Pobres formigas mortas!”. E Rubião, para quem ainda não sabe, é o verdadeiro protagonista do livro, aqui já em começo de loucura terminal, apaixonado que estava por uma mulher casada.
O que mais me espantou neste romance tão tardiamente – mas ainda a tempo – lido é que não há apenas um púnico protagonista. Além do citado Rubião e dos dois personagens-título (um filósofo insano e seu cachorro devoto), as personagens secundárias que apareciam à medida que os capítulos evoluíam galgavam também status de protagonistas, visto que a instância narrativa respeitava-as em igual medida de onisciência. A benevolência de D. Fernanda, por exemplo, cativou-me por completo, dada a postura sinceramente altruísta que ela devota a Rubião, com quem não tinha nenhum grau de parentesco, depois que descobre que este enlouquecera em razão de uma paixão mal-curada e mal-vazada. Por isso, disse eu que antevira neste romance o meu próprio fim... Oxalá Deus me resguarde uma mecenas de saúde tão benevolente...
Mas o livro segue adiante e seria de todo injusto que eu desgastasse os leitores com toneladas e toneladas de citações apaixonadas (se bem que já o fiz neste e noutros ‘blogs’), mas peço encarecidamente o perdão de quem quer que seja para transcrever aqui na íntegra o capítulo CCI do livro, o derradeiro, aquele que eu citei na mensagem enviada ao moço que sugeriu que eu o lesse, visto que não conseguira se identificar na leitura:
“Queria dizer aqui o fim de Quincas Borba, que adoeceu também, ganiu infinitamente, fugiu desvairado em busca do dono, e amanheceu morto na rua, três dias depois. Mas, vendo a morte do cão narrada em capítulo especial, é provável que me perguntes se ele, se os eu defunto homônimo é que dá título ao livro, e por que antes um que outro, - questão prenhe de questões, que nos levariam longe... Eia! Chora os dois recentes mortos, se tens lágrimas. Se só tens riso, ri-te! É a mesma coisa. O Cruzeiro, que a linda Sofia não quis fitar, como lhe pedia Rubião, está assaz alto para não discernir os risos e as lágrimas dos homens”. E, mal terminara eu de ler este trecho sublime, o reli. Relido, o treli. E, quanto mais o fazia, mais era pungido pela perfeição (aí, sim, termo que cabe muito bem a este desfecho) do estilo de seu autor. Machado de Assis surpreende-nos sempre, por mais que creiamos ter desvendado os mistérios de seus romances anteriores e posteriores. E, se aqui ele me fez tremer com a coincidência do garotinho que tacha Rubião de “gira” – ou seja, louco – depois de, dois anos antes, ter sido justamente salvo de um atropelamento mortal por ele (para ficar em apenas um exemplo, aquele tão bem descrito no capítulo CLXXXII), tenho a plena e convicta certeza de que ainda me surpreenderei deveras ao embrenhar-me neste universo de encantos infindáveis que atende pelo nome de Literatura.
À guisa de conclusão deste relato, um sopro adicional de realidade: poucos minutos depois que enviei a mensagem de celular acima transcrita, recebi uma resposta de meu apaixonante interlocutor:
“que bom para você...”. Ceifada de sardônicas intenções que ela possa ter sido escrita, não posso me furtar a uma confissão reiterada – e ainda a ele direcionada:
se estou feliz agora, exatamente
agora, neste exato e fugidio instante, é por causa de
ti, de
ti e de
ti!
Wesley PC>
 “Saí da igreja louca de raiva e, para desafiar (...) todas as pessoas razoáveis e imparciais, fiz o mesmo que faziam as pessoas nas igrejas espanholas: mergulhei o dedo na tal da água benta e fiz uma cruz em minha testa” (Sarah Miles, 2 de outubro de 1945, em seu diário pessoal, conforme registrado em livro de Graham Greene)
“Saí da igreja louca de raiva e, para desafiar (...) todas as pessoas razoáveis e imparciais, fiz o mesmo que faziam as pessoas nas igrejas espanholas: mergulhei o dedo na tal da água benta e fiz uma cruz em minha testa” (Sarah Miles, 2 de outubro de 1945, em seu diário pessoal, conforme registrado em livro de Graham Greene)