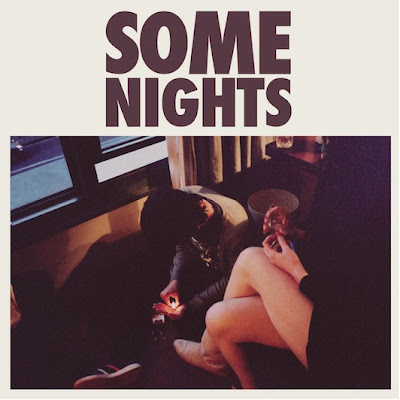sábado, 14 de julho de 2012
E ESTA VONTADE DANADA QUE EU ESTOU DE CONVERSAR... (PARTE 2)
“ - Não era o meu corpo que estava doente. Era a minha alma! E é tão difícil falar sobre as doenças do espírito, até mesmo para quem se ama...
- Tu achavas que eu não seria capaz de compreender?
- Isto é algo que eu não posso explicar: eu brinquei com conhecimentos perigosos!"
Tudo bem que eu suspeitava que “O Médico e o Monstro” (1932, de Rouben Mamoulian) seria, de fato, um ótimo filme, mas que me emocionaria a este ponto, foi um verdadeiro golpe. Além de possuir ótimos efeitos especiais, magníficos recursos directivos e uma ótima composição dupla de Frederic March no papel principal, o argumento do romancista Robert Louis Stevenson sobre os embates entre o Bem e o Mal que se digladiam na consciência humana sintetizava primorosamente como eu estava me sentindo antes, durante e depois de ver o filme. Queria conversar pessoalmente com alguém agora. Mas todos dormem ou estão longe ou estão ocupados ao lado de outrem. Vou ver se consigo dormir. Quem sabe amanhã eu não consiga analisar meus “conhecimentos perigosos” a dois...
Wesley PC>
Marcadores:
amizade,
assimetria do desejo,
cinema,
felicidade é tambem imaginária?,
genialidade,
gnosiologia,
hollywood,
identificação perigosa,
qual é o verdadeiro horror?,
solidão
A LÓGICA DOS “PEQUENOS FAVORES” E ESTA VONTADE DANADA QUE EU ESTOU DE CONVERSAR...
Não me programei para assistir ao filme “A Melhor Maneira de Andar” (1976, de Claude Miller). Passou na TV, e eu vi. Na trama, dois instrutores de colônia de férias se embatiam: um deles, vivido por Patrick Dewaere (que, na vida real, se suicidou aos 35 anos de idade), é debochado e atlético; o outro, vivido por Patrick Bouchitey, é intelectual e taciturno. No começo do filme, um deles quer ver um filme do Ingmar Bergman na TV, enquanto seus colegas fazem baderna, atrapalhando a sessão. Ele vai para o quarto, quando falta energia e o outro o flagra vestido de mulher quando vai buscar velas em seu quarto. Daí para a frente, uma estranha competição de egos se instala: o taciturno tenta se reconciliar com o debochado, enquanto este diz que eles até podem ser amigos, mas o outro terá que lhe prestar “alguns pequenos favores”, nunca explicitados até o final da película, por mais que suspeitemos bem quais sejam...
Para além de um ou outro problema, a sutileza passional do enredo me atingiu em cheio: protagonizei uma situação (des)confortavelmente – em intenção – no dia de hoje, de modo que me identifiquei deveras com o personagem merencório. E como torci para que, no futuro, aquele final paralisado se repita várias e várias vezes, incluindo aí a co-participação da bela atriz Christine Pascal, que interpreta a namorada virgem do personagem tendente à homossexualidade. É um filme tão sutil, tão bonito... E hoje eu dormirei feliz, mas angustiado por não ter com quem conversar: ainda estou sob efeito da fotofobia gnoseológica que me tomou de assalto após o mergulho no vazio complementar dos últimos dias. Sou um homem apaixonado pela vida (e por alguns viventes): deve ser este o meu dom e o meu maior problema!
Wesley PC>
Para além de um ou outro problema, a sutileza passional do enredo me atingiu em cheio: protagonizei uma situação (des)confortavelmente – em intenção – no dia de hoje, de modo que me identifiquei deveras com o personagem merencório. E como torci para que, no futuro, aquele final paralisado se repita várias e várias vezes, incluindo aí a co-participação da bela atriz Christine Pascal, que interpreta a namorada virgem do personagem tendente à homossexualidade. É um filme tão sutil, tão bonito... E hoje eu dormirei feliz, mas angustiado por não ter com quem conversar: ainda estou sob efeito da fotofobia gnoseológica que me tomou de assalto após o mergulho no vazio complementar dos últimos dias. Sou um homem apaixonado pela vida (e por alguns viventes): deve ser este o meu dom e o meu maior problema!
Wesley PC>
DA NECESSIDADE (IMAGINÁRIA) DE SE DESGOSTAR DE ALGO...
O sentimento espectatorial dominante ao fim de qualquer sessão de “AIDS, Furor do Sexo Explícito” (1985, de Fauzi Mansur) é, sem dúvida, a perplexidade. Ao final da projeção, eu não sabia se gargalhava, se me assombrava, se elogiava ou se estraçalhava verbalmente o filme. Se me perguntarem agora, direi que o achei absolutamente genial! Toda a minha vida (paravirginal) passou diante dos meus olhos...
A trama do filme é infinitamente tosca: numa bacanal à beira da piscina, um travesti cai na água e, quando é retirado, quase inconsciente, descobre-se que ele está com AIDS. No momento seguinte, o protagonista milionário descobre que está atingido pela mesma síndrome e telefona para uma misteriosa organização que investiga transmissores do vírus. Ao som da trilha sonora que Vangelis compôs para “Blade Runner, o Caçador de Andróides” (1982, de Ridley Scott), o tal investigador adentra a ilha particular do milionário e o obriga a confessar com quem fizera sexo nos últimos seis meses. Reúne as quatro mulheres mencionadas e cada uma delas é torturada para revelar os seus parceiros, numa tessitura pornográfica de ‘flashbacks’ que desencadeia na conclusão obvia de que o milionário trepava com a sua empregada hermafrodita contaminada. “Isso é um plágio: a culpa é sempre do mordomo!”, reclama, indignado, o investigador, ao final do filme. E eu e meus amigos sem acreditar no que vimos: absolutamente genial, ouso dizer!
Para além de suas intenções comerciais eroticamente inversas ao intento profilático do título (vide a foto abaixo), “AIDS, Furor do Sexo Explícito” contém algumas das cenas mais inusitadas do cinema brasileiro. A simulação de sexo oral com uma caveira animalesca (antecipada imageticamente nessa postagem), utilizada como forma de tortura pelo investigador para que uma das amantes do protagonista revelasse que fizera sexo com mais pessoas do que dissera num primeiro encontro, é absurdamente inacreditável: o homem contratado para ser felacionado pelo crânio chega a sangrar, de tanto que sue pênis foi machucado pela estrutura óssea. Uau!
À medida que o filme avançava – e nós gargalhávamos – não sabia se me escandalizava mais com o nonsense escroto da trama ou com as aberrações deseducativas da mesma, principalmente no que tange às generalizações contra o comportamento homossexual. E o final, quando sarcomas de Kaposi passam a abundar, de uma hora para a outra, na pele do milionário? Eu definitivamente preciso rever este filme, estudá-lo a fundo. Mas, desgostar que é bom, nada! (risos)
Observação: vale acrescentar que possuir um parente atingido pela síndrome faz com que a recepção deste filme seja-me muito mais centrípeta do que para outras pessoas. E este medo de prolongar por tanto tempo a minha virgindade penetrativa, paralelo ao temor de incorrer na promiscuidade? Não deu outra: este filme é um dos meus favoritos!
Wesley PC>
A trama do filme é infinitamente tosca: numa bacanal à beira da piscina, um travesti cai na água e, quando é retirado, quase inconsciente, descobre-se que ele está com AIDS. No momento seguinte, o protagonista milionário descobre que está atingido pela mesma síndrome e telefona para uma misteriosa organização que investiga transmissores do vírus. Ao som da trilha sonora que Vangelis compôs para “Blade Runner, o Caçador de Andróides” (1982, de Ridley Scott), o tal investigador adentra a ilha particular do milionário e o obriga a confessar com quem fizera sexo nos últimos seis meses. Reúne as quatro mulheres mencionadas e cada uma delas é torturada para revelar os seus parceiros, numa tessitura pornográfica de ‘flashbacks’ que desencadeia na conclusão obvia de que o milionário trepava com a sua empregada hermafrodita contaminada. “Isso é um plágio: a culpa é sempre do mordomo!”, reclama, indignado, o investigador, ao final do filme. E eu e meus amigos sem acreditar no que vimos: absolutamente genial, ouso dizer!
Para além de suas intenções comerciais eroticamente inversas ao intento profilático do título (vide a foto abaixo), “AIDS, Furor do Sexo Explícito” contém algumas das cenas mais inusitadas do cinema brasileiro. A simulação de sexo oral com uma caveira animalesca (antecipada imageticamente nessa postagem), utilizada como forma de tortura pelo investigador para que uma das amantes do protagonista revelasse que fizera sexo com mais pessoas do que dissera num primeiro encontro, é absurdamente inacreditável: o homem contratado para ser felacionado pelo crânio chega a sangrar, de tanto que sue pênis foi machucado pela estrutura óssea. Uau!
À medida que o filme avançava – e nós gargalhávamos – não sabia se me escandalizava mais com o nonsense escroto da trama ou com as aberrações deseducativas da mesma, principalmente no que tange às generalizações contra o comportamento homossexual. E o final, quando sarcomas de Kaposi passam a abundar, de uma hora para a outra, na pele do milionário? Eu definitivamente preciso rever este filme, estudá-lo a fundo. Mas, desgostar que é bom, nada! (risos)
Observação: vale acrescentar que possuir um parente atingido pela síndrome faz com que a recepção deste filme seja-me muito mais centrípeta do que para outras pessoas. E este medo de prolongar por tanto tempo a minha virgindade penetrativa, paralelo ao temor de incorrer na promiscuidade? Não deu outra: este filme é um dos meus favoritos!
Wesley PC>
sexta-feira, 13 de julho de 2012
UMA CANÇÃO, APENAS UMA, E O DISCO JÁ ESTÁ BEM-PAGO!
Por mais que eu lute para me manter à parte das manipulações emotivo-somáticos da música ‘pop’ anglofílica, volta e meia me flagro ouvindo sem parar uma dada canção de sucesso. Nas últimas semanas, me flagrei tão encantado por “We Are Young”, faixa 03 do disco “Some Nights” (2012), da pretensa banda alternativa nova-iorquina fun., que não resisti e baixei o disco inteiro, mas, por mais que eu o ouça, não consigo gostar dele: é irregular, vendável, elogiável apenas por causa de sua canção mais famosa...
Para falar a verdade, também gostei da faixa de abertura [“Some Nights (Intro)”], mas, no geral, o que o disco tem de realmente relevante é o seu hino conformado à “juventude de hoje à noite”. Em mais de um sentido, concordo com o tom um tanto conservador da canção, que, por si só, sustenta a minha decisão de não apagar o disco de meu computador. Volta e meia isso acontece em relação aos discos ‘pop’ que eu insisto em possuir. E, na volta para casa, na tarde nublada de hoje, ouvirei novamente o disco, para ver se tenho mais algo a falar sobre ele. Por ora, eu canto:
“Now I know that I'm not all that you got
I guess that I I just thought maybe we could find a ways to fall apart
But are friends in back
So let's raise a cup
Cause I found someone to carry me home
Tonight
We are young
So let's set the world on fire
We can burn brighter
Than the sun”
Assim mesmo, exatamente assim!
Oficialmente, eu me sinto unitariamente contemplado!
Wesley PC>
Para falar a verdade, também gostei da faixa de abertura [“Some Nights (Intro)”], mas, no geral, o que o disco tem de realmente relevante é o seu hino conformado à “juventude de hoje à noite”. Em mais de um sentido, concordo com o tom um tanto conservador da canção, que, por si só, sustenta a minha decisão de não apagar o disco de meu computador. Volta e meia isso acontece em relação aos discos ‘pop’ que eu insisto em possuir. E, na volta para casa, na tarde nublada de hoje, ouvirei novamente o disco, para ver se tenho mais algo a falar sobre ele. Por ora, eu canto:
“Now I know that I'm not all that you got
I guess that I I just thought maybe we could find a ways to fall apart
But are friends in back
So let's raise a cup
Cause I found someone to carry me home
Tonight
We are young
So let's set the world on fire
We can burn brighter
Than the sun”
Assim mesmo, exatamente assim!
Oficialmente, eu me sinto unitariamente contemplado!
Wesley PC>
“MAIS DE 58 LINHAS E NENHUM ADVÉRBIO DE MODO!”
Famoso (ou melhor, infame) por causa de seus erros informativos em comentários sobre obras de arte – erros que ele fazia questão de manter, visto que afirmava que não estava interessado na “realidade dos fatos”, mas sim num ‘análise’ dos mesmos, aspecto com o qual me identifiquei – Paulo Francis tornou-se ainda mais consagrado quando passou a aparecer comumente na TV, numa seção estadunidense da Rede Globo, tanto por causa de sua voz anasalada quanto por causa de suas opiniões categóricas e exageradas, sem contar a sua estridente conversão em defensor apaixonado do capitalismo depois de ser trotkista por vários anos. Num trecho do documentário, inclusive, ele questiona: “num determinado ponto de minha vida, eu percebi que o capitalismo não era o monstro contra o qual eu deveria lutar, mas sim algo que funciona”... E eu tive certeza de que este filme mudaria o meu ponto de vista acerca de como encarar a minha provável adesão futura ao ofício de jornalista!
Acusado de ser plagiador, medíocre no campo intelectual, machista, colérico e muitas outras pechas comprovadas, Paulo Francis amava sua gata Alzira. Na cena que mais me emocionou no filme, sua viúva chora ao ler uma carta que descrevia o sofrimento da mesma durante os seus últimos dias de vida. Mas o que chama mais atenção no documentário são as entrevistas, que vão desde o seu companheiro de redação Ruy Castro aos seus asseclas opinativos Matinas Suzuki e Diogo Mainardi, além da shomenagens prestadas por uma banda de ‘rock’ pernambucana chamada Paulo Francis Vai Pro Céu. Porém, o momento mais impactante para mim foi uma intervenção do ex-Ministro da Fazenda Gustavo Krause, que, depois de ser tachado de “jeca” pelo jornalista, que não escondia o seu preconceito contra nordestinos, o político pernambucano disse que ela tinha razão em suas acusações e, em seguida, tasca: “do mesmo modo que existe ‘intelligentsia’ no Brasil, existe também uma ‘burritsia’. Qualquer um que não pense sob a vulgata marxista faz muita falta!”. Fiz questão de enviar este comentário para o meu orientador de Mestrado no mesmo instante! (risos)
No trecho final do documentário, a suposta negligência de um médico e um processo judicial (em minha opinião, entendível) contra uma aberrante calúnia proferida pelo jornalista – que acusou ao vivo, no seu programa de televisão, o então presidente da Petrobrás, Joel Rennó, de ser “formador de quadrilha” e de possuir dinheiro depositado em contas na Suíça – são elencados como fatores desencadeadores do enfarto que matou Paulo Francis, mas, para além de suas polêmicas rasteiras, o documentário foi muitíssimo coerente em sua exposição objetiva dos pontos de vista variados sobre este controverso profissional da imprensa brasileira. Desgosto de Paulo Francis enquanto “pessoa” (entendendo-se pelo termo o que apreendi sobre ele neste documentário e na leitura de alguns artigos de sua autoria), mas defendo a necessidade de sua existência enquanto ser humano – e o modo sincero e apaixonado com que ele elogia a amizade demonstra que ele não era um homem de todo ruim! – e enquanto polemista (que o diga o modo inteligente com que ele confessava ter usado quase todas as drogas e nunca ter se viciado em nenhuma, acrescentando que “viciado é aquele que busca de todas as formas a sua autodestruição” e que achava a maconha inócua, mas o uso de cocaína o fazia querer ouvir as óperas de Richard Wagner em volume alto). Afinal de contas, como muitos concordaram, faz bem ter alguma voz corajosa e espevitada que se eleve contra aquilo que discorda. O embate narrado entre ele e o antigo ‘ombudsman’ da Folha de São Paulo, Caio Túlio Costa, apelidado de “lagartixa pré-histórica” pelo biografado, é providencial neste sentido: se Paulo Francis vivesse em Sergipe e tivesse que comentar determinadas atividades culturais do Estado, ele já teria sido apedrejado faz tempo, por motivos bem diferentes daqueles que me faz considerá-lo um contra-exemplo do tipo de jornalismo que eu anseio por exercer. Por outro lado, ele faz parte de uma geração extinta, para quem os textos jornalísticos e/ou opinativos deveriam ser bem escritos tanto na forma quanto no conteúdo, visto que ambos são indissociáveis. A bela exclamação que intitula esta postagem, mencionada no filme pelo brilhante Ruy Castro, é a prova que Paulo Francis não deve ser rechaçado sem análise – mesmo que seja tão enérgico e precipitado quanto o tipo de comentário (inclusive permeado por palavrões) que ele estava acostumado a fazer!
Wesley PC>
Marcadores:
capitalismo,
cinema,
crítica,
documentação visual subjetiva,
economia política,
identificação perigosa,
jornalismo,
opiniões diversas,
polêmica,
surpresa midiática
quarta-feira, 11 de julho de 2012
JÁ QUE TOQUEI NO NOME DO ROBERT DREW (E UM SENTIMENTO QUE ME APERTA O CORAÇÃO)...
Vi “Primárias” (1960) na noite de hoje. Apesar de este filme de Robert Drew, inaugurador do ‘cinema direto’ nos EUA ser um verdadeiro clássico, precisei de um empurrãozinho sindical para ter acesso. E, em sua impressionante combinação de aspectos privados com elementos políticos, ele fascina, sendo, inclusive, o ponto de partida para o posterior “Entreatos” (2004, de João Moreira Salles), impressionante desnudamento do cotidiano daquele que se tornou um dos homens mais importantes do País...
Aqui no Brasil, os detalhes da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva chamaram a atenção por causa da assunção corajosa, por parte do político, dos estratagemas de ‘marketing’ que o cercaram e o transformam fisionomicamente em 2002. No caso estadunidense, o que mais fascina é o paralelismo entre a austeridade do candidato Hubert Humphrey e o seu concorrente bastante carismático, afinal vencedor, John Fitzgerald Kennedy.
Ziguezagueando entre as conferências de Humphrey (que parece o opositor de Charles Foster Kane na obra-prima inicial de Orson Welles) a seus possíveis candidatos – a quem sempre entrega cartões e pede que eles telefonem para o seu palanque caso queiram tirar alguma dúvida de campanha – e o assédio generalizado que Kennedy e sua esposa Jacqueline recebem de diversos admiradores, o filme inaugura um novo modo de penetrar na realidade, fazendo com que as câmeras deslizem sorrateiramente pelos personagens reais, que ignoram a sua presença, como se estivessem num filme de ficção...
Intimidade, portanto, é um termo-chave na relação que Robert Drew estabelece com ambos os pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos da América. Os políticos compartilham a sua intimidade com o público de forma bastante inaudita para a época – e ainda hoje, se prestarmos atenção.Durante os créditos finais, por exemplo, sabemos que ambos cederam as músicas-temas de suas campanhas para o filme, de modo que é concomitantemente irônico e simpático o momento final do filme, em que, após sabermos da vitória anunciada de John Kennedy, o ‘jingle’ em homenagem a Hubert Humphrey é executado quase na íntegra. A última imagem que vemos dele, afinal, é sorridente, ao lado de uma mulher que parece sua esposa...
O fato de eu ter assistido a este filme sem legendas, numa cópia ruim, fez com que eu não entendesse direito alguns aspectos, mas o brilhantismo de seqüências como aquela que mostra a família Kennedy apertando as mãos de dezenas – quiçá centenas – de pessoas num comício e o acompanhamento pela câmera dos pés dos votantes na eleição definitiva fez com que, por alguns minutos importantes, eu esquecesse (ou fingisse esquecer) o sentimento de impotência que me apertava o peito, a tristeza aparentemente sem sentido que me oprimia, o mal-estar psicológico que me tomava de assalto desde cedo. Cinema tem esse poder, humanidade tem esse poder!
Wesley PC>
Aqui no Brasil, os detalhes da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva chamaram a atenção por causa da assunção corajosa, por parte do político, dos estratagemas de ‘marketing’ que o cercaram e o transformam fisionomicamente em 2002. No caso estadunidense, o que mais fascina é o paralelismo entre a austeridade do candidato Hubert Humphrey e o seu concorrente bastante carismático, afinal vencedor, John Fitzgerald Kennedy.
Ziguezagueando entre as conferências de Humphrey (que parece o opositor de Charles Foster Kane na obra-prima inicial de Orson Welles) a seus possíveis candidatos – a quem sempre entrega cartões e pede que eles telefonem para o seu palanque caso queiram tirar alguma dúvida de campanha – e o assédio generalizado que Kennedy e sua esposa Jacqueline recebem de diversos admiradores, o filme inaugura um novo modo de penetrar na realidade, fazendo com que as câmeras deslizem sorrateiramente pelos personagens reais, que ignoram a sua presença, como se estivessem num filme de ficção...
Intimidade, portanto, é um termo-chave na relação que Robert Drew estabelece com ambos os pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos da América. Os políticos compartilham a sua intimidade com o público de forma bastante inaudita para a época – e ainda hoje, se prestarmos atenção.Durante os créditos finais, por exemplo, sabemos que ambos cederam as músicas-temas de suas campanhas para o filme, de modo que é concomitantemente irônico e simpático o momento final do filme, em que, após sabermos da vitória anunciada de John Kennedy, o ‘jingle’ em homenagem a Hubert Humphrey é executado quase na íntegra. A última imagem que vemos dele, afinal, é sorridente, ao lado de uma mulher que parece sua esposa...
O fato de eu ter assistido a este filme sem legendas, numa cópia ruim, fez com que eu não entendesse direito alguns aspectos, mas o brilhantismo de seqüências como aquela que mostra a família Kennedy apertando as mãos de dezenas – quiçá centenas – de pessoas num comício e o acompanhamento pela câmera dos pés dos votantes na eleição definitiva fez com que, por alguns minutos importantes, eu esquecesse (ou fingisse esquecer) o sentimento de impotência que me apertava o peito, a tristeza aparentemente sem sentido que me oprimia, o mal-estar psicológico que me tomava de assalto desde cedo. Cinema tem esse poder, humanidade tem esse poder!
Wesley PC>
ÀS RUAS: POR FALTA DE DIVULGAÇÃO É QUE NÃO FOI!
Na tarde de hoje, finalmente assisti ao documentário clássico “Braços Cruzados, Máquinas Paradas” (1979, de Roberto Gervitz & Sérgio Toledo), que, de clássico, de fato, tem a sua relevância histórica, mas não necessariamente a sua formatação discursiva: o modo como os diretores/roteiristas/editores, ao lado do músico Luiz Henrique Xavier e do fotógrafo Aloysio Raulino, estruturam a cadência narrativa do documentário tem muito menos a ver com a objetividade ideologizada os entusiastas da forma “clássica” do gênero que com as inovações estético-políticas levadas a cabo por Jean Rouch, Chris Marker e Robert Drew, para ficar em apenas alguns exemplos. Em outras palavras: o filme não se prende apenas a um registro da História, mas ajuda a escrevê-la, o filme sai às ruas e compra a briga dos trabalhadores, focalizada como objeto de denúncia do filme.
A rejeição dos moldes clássicos de feitura confere ao filme uma estrutura que se serve de elementos consagrados como ficcionais, mas que servem aqui a um propósito conteudisticamente revolucionário. O foco da exposição fílmica são as conturbadas eleições sindicais metalúrgicas de 1978. Logo no início, a narração de Othon Bastos rechaça os moldes sindicais então em voga, implantados pelo ex-presidente Getúlio Vargas a partir de uma moldura fascista. Três chapas estão concorrendo: a chapa 1, que anseia pela continuidade do peleguismo; a chapa 2, que proclama um discurso mencheviquezado; e a chapa 3, claramente de oposição e à qual estão coadunados os interesses expositivos dos produtores do filme e as reivindicações salariais da maioria dos trabalhadores. Ao longo dos 76 minutos de projeção, acompanhamos as planilhas administrativas das três chapas em concorrência, as atividades grevistas mencionadas desde o chamativo título do filme e as acusações (comprovadas) de fraude na apuração dos votos. Uma elipse formal demonstra a intervenção do Ministério do Trabalho em favor dos sindicalistas da chapa 1 e o trecho final do filme é um clamor público pela legitimidade dos direitos dos metalúrgicos. Simples, porém expressivamente efetivo!
Dentre os diversos recursos linguísticos que facilmente angariam a atenção militante do espectador estão a percuciente exposição de problemas socioeconômicos da época, como os veículos lotados e em más condições nos quais os trabalhadores se penduram para chegar até às fábricas, as reclamações incoesas e justificadamente redundantes de operários que estão muito mais preocupados com suas condições de subsistência do que com uma plataforma política mais geral – o que redundará numa brilhante autocrítica por parte do filme, quando mostra um representante patronal dizendo que os grevistas estão muito alegres, ao invés de demonstrarem a penúria atrelada aos salários insatisfatórios, conforme se vê nalgumas imagens em que eles sorriem deslumbradamente para a câmera – e a legitimação midiático-jornalística de medidas oficiais, como a estapafúrdia garantia à posse de Joaquim dos Santos Andrade, presidente reeleito (por vias corruptas) da Chapa 1. A utilização de campo e contracampo, bem como a ficcionalização proposital e escancarada de algumas situações (como o momento em que os operários, de fato, desligam as máquinas em protesto – vide foto), fazem com que o filme se destaque qualitativamente entre os outros exemplares cabais do cinema documental grevista, no caso “Greve!” (1979, de João Batista de Andrade), “ABC da Greve” (1979, de Leon Hirszman) e “Linha de Montagem” (1982, de Renato Tapajós), os três recuperados analítica e nostalgicamente em “Peões” (2004, de Eduardo Coutinho).
Apesar de seu brilhantismo construtivo e reivindicativo, “Braços Cruzados, Máquinas Paradas” é pouco conhecido, desprezado pela crítica pelega e ignorado por diversos cinéfilos. Tive a honra de assistir a este filme brilhante numa sessão promovida pela ADUFS, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe, em que, incluindo este que vos escreve, uma amiga de infância e três dos organizadores do evento, havia seis pessoas no auditório, chegando mais duas ao final do filme, para contribuir com o debate. Ou seja: um dos mais pungentes filmes já realizados no Brasil sobre uma justa paralisação das atividades trabalhistas em prol de direitos constitucionais básicos continua a ser desdenhado, ainda hoje, por aquele que deveria ser o seu público-alvo ativo. Por essas e outras, os pelegos continuam a se reeleger...
Wesley PC>
A rejeição dos moldes clássicos de feitura confere ao filme uma estrutura que se serve de elementos consagrados como ficcionais, mas que servem aqui a um propósito conteudisticamente revolucionário. O foco da exposição fílmica são as conturbadas eleições sindicais metalúrgicas de 1978. Logo no início, a narração de Othon Bastos rechaça os moldes sindicais então em voga, implantados pelo ex-presidente Getúlio Vargas a partir de uma moldura fascista. Três chapas estão concorrendo: a chapa 1, que anseia pela continuidade do peleguismo; a chapa 2, que proclama um discurso mencheviquezado; e a chapa 3, claramente de oposição e à qual estão coadunados os interesses expositivos dos produtores do filme e as reivindicações salariais da maioria dos trabalhadores. Ao longo dos 76 minutos de projeção, acompanhamos as planilhas administrativas das três chapas em concorrência, as atividades grevistas mencionadas desde o chamativo título do filme e as acusações (comprovadas) de fraude na apuração dos votos. Uma elipse formal demonstra a intervenção do Ministério do Trabalho em favor dos sindicalistas da chapa 1 e o trecho final do filme é um clamor público pela legitimidade dos direitos dos metalúrgicos. Simples, porém expressivamente efetivo!
Dentre os diversos recursos linguísticos que facilmente angariam a atenção militante do espectador estão a percuciente exposição de problemas socioeconômicos da época, como os veículos lotados e em más condições nos quais os trabalhadores se penduram para chegar até às fábricas, as reclamações incoesas e justificadamente redundantes de operários que estão muito mais preocupados com suas condições de subsistência do que com uma plataforma política mais geral – o que redundará numa brilhante autocrítica por parte do filme, quando mostra um representante patronal dizendo que os grevistas estão muito alegres, ao invés de demonstrarem a penúria atrelada aos salários insatisfatórios, conforme se vê nalgumas imagens em que eles sorriem deslumbradamente para a câmera – e a legitimação midiático-jornalística de medidas oficiais, como a estapafúrdia garantia à posse de Joaquim dos Santos Andrade, presidente reeleito (por vias corruptas) da Chapa 1. A utilização de campo e contracampo, bem como a ficcionalização proposital e escancarada de algumas situações (como o momento em que os operários, de fato, desligam as máquinas em protesto – vide foto), fazem com que o filme se destaque qualitativamente entre os outros exemplares cabais do cinema documental grevista, no caso “Greve!” (1979, de João Batista de Andrade), “ABC da Greve” (1979, de Leon Hirszman) e “Linha de Montagem” (1982, de Renato Tapajós), os três recuperados analítica e nostalgicamente em “Peões” (2004, de Eduardo Coutinho).
Apesar de seu brilhantismo construtivo e reivindicativo, “Braços Cruzados, Máquinas Paradas” é pouco conhecido, desprezado pela crítica pelega e ignorado por diversos cinéfilos. Tive a honra de assistir a este filme brilhante numa sessão promovida pela ADUFS, Associação dos Docentes da Universidade Federal de Sergipe, em que, incluindo este que vos escreve, uma amiga de infância e três dos organizadores do evento, havia seis pessoas no auditório, chegando mais duas ao final do filme, para contribuir com o debate. Ou seja: um dos mais pungentes filmes já realizados no Brasil sobre uma justa paralisação das atividades trabalhistas em prol de direitos constitucionais básicos continua a ser desdenhado, ainda hoje, por aquele que deveria ser o seu público-alvo ativo. Por essas e outras, os pelegos continuam a se reeleger...
Wesley PC>
HUMOR DO DIA: AUGUSTO DOS ANJOS + FAUZI MANSUR:
"Se a alguém causa inda pena a tua chaga,
Apedreja essa mão vil que te afaga,
Escarra nessa boca que te beija!"
Em outras palavras, não apenas eu preciso ver "AIDS, Furor do Sexo Explícito" (1985, de Fauzi Mansur) o quanto antes como também eu preciso encasquetar de vez que dor (leia-se: sexo) – também se vende e muito! E o vazio... O vazio!
Wesley PC>
“TE ACOMPANHO OU TE PERSIGO?”
Na madrugada de hoje, tive metade de um sonho em preto-e-branco. Estava diante de um supermercado, com vontade de roubar algo. Desisti na última hora. Percebi que, ao lado do supermercado, havia uma locadora de DVDs japonesa muito interessante. Além dos preciosos títulos cinematográficos disponíveis para locação, no local, vendiam-se deliciosos pudins. Os reivindicantes juvenis esquerdistas da UFS eram clientes habituais do lugar, mas eu fiquei com pena de gastar R$ 15,00 num pote pequeno de uma iguaria azul. Estava com água na boca, mas achava que o preço não valia a pena. De repente, me deparo com um fotógrafo musculoso do lado de fora. Sem pestanejar, paguei-lhe o tal pudim caro. Flagrei-o tomando banho, ao final. Valeu a pena: as cores haviam voltado à minha vida!
Depois de ter compreendido o que este sonho quis me dizer, enviei algumas mensagens pendentes e escolhi algum filme para ver no quarto de meu irmão. Optei por uma comédia espanhola sobre a qual nada sabia, exceto que sua temática era homossexual: “Amor de Homem” (1997, de Yolanda García Serrano & Juan Luis Iborra). Pouco a pouco, fui me identificando: uma professora solitária é inassumidamente apaixonada por seu melhor amigo ‘gay’. Amor platônico, que a leva a gastar a maior parte de seu tempo tentando arranjar um namorado para ele, que é promíscuo, não se apega a ninguém. Até que ela finalmente o apresenta a um professor de Educação Física, que, na verdade, é um nocivo michê. A amizade dos dois é posta à prova: ela tenta demonstrar que, se ele está feliz, ela está feliz também. Ele está cego de prazer. Mas a amizade é mais forte. A amizade é mais forte? “Definição de amigo: aquele que não te deixa ficar sério”. “Definição de seriedade: blá-blá-blá!”. Sem perceber, John Cassavetes, em seu “Faces” (1968), agiu como psicoterapeuta. Quando eu quis comer o tal pudim azul de quinze Reais, não o comprei. Quando um homem gostoso assim o desejou, não pensei duas vezes: é o vazio, o medo do vazio, o desejo enrustido pelo vazio...
Wesley PC>
Depois de ter compreendido o que este sonho quis me dizer, enviei algumas mensagens pendentes e escolhi algum filme para ver no quarto de meu irmão. Optei por uma comédia espanhola sobre a qual nada sabia, exceto que sua temática era homossexual: “Amor de Homem” (1997, de Yolanda García Serrano & Juan Luis Iborra). Pouco a pouco, fui me identificando: uma professora solitária é inassumidamente apaixonada por seu melhor amigo ‘gay’. Amor platônico, que a leva a gastar a maior parte de seu tempo tentando arranjar um namorado para ele, que é promíscuo, não se apega a ninguém. Até que ela finalmente o apresenta a um professor de Educação Física, que, na verdade, é um nocivo michê. A amizade dos dois é posta à prova: ela tenta demonstrar que, se ele está feliz, ela está feliz também. Ele está cego de prazer. Mas a amizade é mais forte. A amizade é mais forte? “Definição de amigo: aquele que não te deixa ficar sério”. “Definição de seriedade: blá-blá-blá!”. Sem perceber, John Cassavetes, em seu “Faces” (1968), agiu como psicoterapeuta. Quando eu quis comer o tal pudim azul de quinze Reais, não o comprei. Quando um homem gostoso assim o desejou, não pensei duas vezes: é o vazio, o medo do vazio, o desejo enrustido pelo vazio...
Wesley PC>
A MÚSICA REPETITIVA E EM PERMANENTE ‘CRESCENDO’ DO DICK DANELLO: UM PRETEXTO!
Quando eu liguei a TV para ver “Cio... Uma Verdadeira História de Amor” (1971), não tinha muitas expectativas sobre o filme. Conhecia a trajetória irregular do diretor Fauzi Mansur, já reverenciado neste ‘blog’ em mais de uma ocasião, mas o título parcialmente cafajeste não me levava a esperar muita coisa deste exemplar menos conhecido de cinema brasileiro. Cinco minutos de projeção, entretanto, foram suficientes para me fazer quedar estupefato diante de uma obra tão surpreendente quanto inevitavelmente polêmica: estava diante de um ótimo e perturbador relato cinematográfico de amor!
Na trama do filme, Vera Lúcia interpreta uma paraibana que se traveste de homem para tentar a vida em São Paulo, depois que seu pai (Jofre Soares) desfigura o rosto de tanto trabalhar em plantações de sisal. Nós, espectadores, sabemos que o personagem principal do filme é uma mulher. Seus companheiros de narrativa, não! Enquanto fotografava uma estrada poeirenta, o engenheiro Paulo (Francisco di Franco) se depara com um caminhão pau-de-arara. Direciona a lente de sua câmera fotográfica para um menino sujo, mal-alojado na capota do veículo. A bela música-tema de Dick Danello irrompe: eles estão apaixonados! Apesar de ser uma falsa situação de homossexualismo, aquilo me excitou – justamente por causa da inusitada falsidade da situação...
À medida que a trama avança e a paraibana assume agora o nome e as feições do engraxate Darci (dublado por um ator masculino, para dar mais credibilidade ao personagem), Paulo reencontra-se casualmente com ele, nas ruas paulistanas. Fica obcecado. Aproveita uma pendência documental que forçaria o menino a voltar para o seu Estado natal e o adota. Aos poucos, deteriora a relação com sua noiva lasciva e fica distraído no emprego: está apaixonado por um menino de 14 anos! Por mais que a narrativa do filme deixe claro que, mais cedo ou mais tarde, Paulo descobrirá que Darci é uma rapariga, e não um menino, o estigma hebefílico permanece até a cena final. Transcende-a, aliás, conforme demonstrado na imagem e nas batidas aceleradas de meu coração neste exato instante: “Cio... Uma Verdadeira História de Amor” é um filme fadado à beleza inequívoca da polêmica. Ao final da sessão, não consegui dormir: estava emocionado, excitado, apaixonado... Beleza de filme – e mais valorativo ainda é saber que ele foi realizado no Brasil!
Wesley PC>
Na trama do filme, Vera Lúcia interpreta uma paraibana que se traveste de homem para tentar a vida em São Paulo, depois que seu pai (Jofre Soares) desfigura o rosto de tanto trabalhar em plantações de sisal. Nós, espectadores, sabemos que o personagem principal do filme é uma mulher. Seus companheiros de narrativa, não! Enquanto fotografava uma estrada poeirenta, o engenheiro Paulo (Francisco di Franco) se depara com um caminhão pau-de-arara. Direciona a lente de sua câmera fotográfica para um menino sujo, mal-alojado na capota do veículo. A bela música-tema de Dick Danello irrompe: eles estão apaixonados! Apesar de ser uma falsa situação de homossexualismo, aquilo me excitou – justamente por causa da inusitada falsidade da situação...
À medida que a trama avança e a paraibana assume agora o nome e as feições do engraxate Darci (dublado por um ator masculino, para dar mais credibilidade ao personagem), Paulo reencontra-se casualmente com ele, nas ruas paulistanas. Fica obcecado. Aproveita uma pendência documental que forçaria o menino a voltar para o seu Estado natal e o adota. Aos poucos, deteriora a relação com sua noiva lasciva e fica distraído no emprego: está apaixonado por um menino de 14 anos! Por mais que a narrativa do filme deixe claro que, mais cedo ou mais tarde, Paulo descobrirá que Darci é uma rapariga, e não um menino, o estigma hebefílico permanece até a cena final. Transcende-a, aliás, conforme demonstrado na imagem e nas batidas aceleradas de meu coração neste exato instante: “Cio... Uma Verdadeira História de Amor” é um filme fadado à beleza inequívoca da polêmica. Ao final da sessão, não consegui dormir: estava emocionado, excitado, apaixonado... Beleza de filme – e mais valorativo ainda é saber que ele foi realizado no Brasil!
Wesley PC>
Marcadores:
assimetria do desejo,
brasilidade,
cinema,
genialidade,
hebefilia,
homoerotismo,
identificação perigosa,
paixonites obsessivas,
segredo,
surpresa midiática
terça-feira, 10 de julho de 2012
“O QUE É QUE TU ENTENDES DE VIDA A DOIS, WESLEY?”, ASSIM DESAFIOU-ME O PROFESSOR ROMERO VENÂNCIO...
“Wesley Pereira de Castro foi o mais apaixonado entre os calouros dos cursos de Comunicação Social que já passearam deslumbrados pelos corredores da Universidade Federal de Sergipe. Controverso, ele levaria o fetiche pelas histórias impressas em celuloide às raias da perversão. De quebra, entre uma catarse e outra, distribuindo suas impressões em folhas de papel A4, panfletos de uma devoção sobre-humana, o crítico ajudou a elevar a discussão suscitada pela projeção de luz sobre a tela a um nível ainda hoje desconhecido pelos nossos periódicos.
The loser’s club – Como todos os párias, Wesley não precisa fazer concessões. Apesar de certo pendor para o escândalo, não há quem o tenha surpreendido em contradição. No blog Críticas de um cinema nu, digressões caudalosas e bem fundamentadas manifestam a convicção dos religiosos no exercício de um olhar puro, em que o autor (seja ele o roteirista, o diretor, ou até mesmo o ator que empresta suas feições para a encarnação do bem, do mal ou do humano) pode se despir de segundas intenções e se dedicar sem reservas ao propósito primeiro de seu trabalho.
Mais ou menos como o próprio crítico afirma, num artigo redigido em homenagem á memória de Carlos Reichenbach. 'Ele corresponde a um modelo exemplar do tipo de promulgação dialética que defende que ‘a crítica se nutre da Arte e a Arte da vida'.
Quer refletir sobre cinema? Não espere outra oportunidade."
Esse texto não foi escrito por mim... Escreveram sobre mim e, ao fazerem isso, escreveram sobre muito mais pessoas: desvendaram um contexto. Para além de uma ou outra desavença com Rian Santos, o autor do texto – célebre entre minhas anedotas por causa de uma anedota particular: “tu és satanista?”; “não, sou Rian Cristian!” (risos) – eu me dou por contemplado diante desta síntese de minhas atitudes de pária cultural: apaixonado (em tom superlativo) e religioso (em qualquer tom) são adjetivos que me definem muito bem!
Acerca do desafio contido no título desta postagem, e refletido no título da minha apresentação agendada para a noite de hoje, muita tensão e expectativa: não sei como estarei ao final da sessão de “Faces” (1968, de John Cassavetes). Periga que eu tenha um piripaque emocional no palanque, que me disponha a falar sem parar, a transformar em gagueira ou ditos ininteligíveis aquilo que sinto e que tanto me afeta: “desejo de falar tudo sobre si para escapar do vazio existencial, para preencher um rombo fundamental, inassimilável pelo outro”, acrescentaria o crítico Thierry Jousse. O resto é o amanhã... e/ou talvez o sempre!
Wesley PC>
Marcadores:
alo/auto-biografia,
assimetria do desejo,
cinema,
Dor + obrigado,
emoção em estado bruto,
genialidade,
histrionismo,
identificação perigosa
segunda-feira, 9 de julho de 2012
“A ALEGRIA É UMA QUEIMADURA QUE NÃO SE SABOREIA”...
Nesta noite de domingo, terminei “A Peste” (1947), obra-prima do Albert Camus. Tornou-se rapidamente um dos favoritos de minha vida, um livro que me consumiu ao mesmo tempo em que eu o consumia, que me fez sentir a pujança de seus eventos como se eu fosse um dos moradores da cidade de Orã. Não é um mero relato narrativo, mas uma crença fervorosa de que “há nos homens mais coisas a admirar que coisas a desprezar”, conforme revela o narrador no último capítulo do livro, revelação esta que não me atrevo a refutar: eu concordo, eu escolho acreditar!
Interessante que eu tenha mencionado o narrador de supetão. Afinal de contas, um dos méritos irrefutáveis desta obra é o inteligente uso da instância narrativa, que, apesar de sua percebida onisciência [metalingüística, inclusive, visto que, em dado momento, o assassinato praiano de outra obra-prima do autor (“O Estrangeiro”, de 1942), é mencionado], prefere ater-se aos eventos apenas do ponto de vista compartilhado por alguns personagens. No derradeiro capítulo, o trigésimo, descobre-se que o narrador do livro era, na verdade, o seu próprio protagonista, o doutor Bernard Rieux, profissional abnegado que, durante vários meses, sacrifica sua vida social e seu bem-estar em prol dos vários afligidos pela peste cruel que intitula o romance. Entretanto, para além das diversas passagens excelentes que compõem o livro, prefiro ater-me a duas, aquelas que mais me encantaram por sua genialidade existencialista.
No capítulo sexto, um personagem secundário e aparentemente trivial nos é apresentado: “à primeira vista, com efeito, Joseph Grand nada era além do pequeno funcionário municipal que aparentava ser”. Gradualmente, percebe-se o quão crucial este personagem seria para a manutenção do doutor Rieux em sua crença na humanidade, o que pode muito bem ser antevisto a partir do desfecho do parágrafo posterior àquele em que o funcionário da prefeitura fora apresentado: “decerto não era a ambição que fazia Joseph Grand agir, segundo ele assegurava com um sorriso melancólico, e sim a perspectiva de uma vida material assegurada por meios honestos. Conseqüentemente, sorria-lhe a possibilidade de entregar-se sem remorsos às suas ocupações favoritas. Se aceitara a oferta que lhe faziam, fora por motivos dignos e, como se diz, por fidelidade a um ideal”. Não é difícil antever, portanto, que foi a este personagem que mais me afeiçoei e, dado o devido distanciamento pretensioso, me identifiquei, por conta de meu desempenho burocrático bem-intencionado ao longo de dez anos no Departamento de Administração Acadêmica da Universidade Federal de Sergipe...
Mas o livro vai muito além de minhas afeições: o livro fere e alisa, tacha o amor de egoísta e, ao mesmo tempo, o defende como sentimento inabalável, como força-motriz da existência. E, sendo o domingo em que encerrei a leitura do livro o aniversário de uma das pessoas que mais amo no mundo, a minha mãe, fui absolutamente arrebatado por uma passagem do vigésimo oitavo capítulo: “Ele sabia o que a mãe pensava e que nesse momento ela o amava. Mas sabia também que não é grande coisa amar um ser, ou que, pelo menos, um amor nunca é bastante forte para encontrar a sua própria expressão. Assim, sua mãe e ele se amariam sempre em silêncio. E ela morreria por sua vez – ou ele – sem que, durante toda a vida, tivessem conseguido ir mais longe na confissão de sua ternura”. Putz! E eu tremia ao terminar de ler estas linhas pela primeira vez...
Obviamente, fiz questão de dizer à minha mãe que a amo, da mesma forma que faço aos meus amigos mais queridos e às pessoas por quem nutro paixonites que, por mais patológicas que possam parecer, são corruptelas interditas de um amor sincero. O livro me contemplou em sua genial discrição analítica acerca de sentimentos tão poderosos, os quais são arduamente defendidos na surpreendente conclusão da trama. Quando eu contava a história do mesmo a alguém, aliás, comentaram que o modo como a narrativa se desenvolve (uma doença surge de repente, faz com que as pessoas mostrem como realmente são no interior de suas almas e, depois que a epidemia abranda, tudo volta ao normal, ainda que uma normalidade eternamente alterada pelas assunções de caráter manifestas durante uma situação de dor e medo) assemelha-se deveras a obras de José Saramago. Mas entre o tom pessimista e surreal do escritor português e a fé poético-realista do romancista franco-argelino, as ameaças à felicidade contidas nas narrativas do segundo marcam o tom diferencial. E, assim, tal qual o doutor Rieux, eu também sabia que “viria talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz”. Obra-prima, pura e simplesmente – e eu te amo!
Wesley PC>
Interessante que eu tenha mencionado o narrador de supetão. Afinal de contas, um dos méritos irrefutáveis desta obra é o inteligente uso da instância narrativa, que, apesar de sua percebida onisciência [metalingüística, inclusive, visto que, em dado momento, o assassinato praiano de outra obra-prima do autor (“O Estrangeiro”, de 1942), é mencionado], prefere ater-se aos eventos apenas do ponto de vista compartilhado por alguns personagens. No derradeiro capítulo, o trigésimo, descobre-se que o narrador do livro era, na verdade, o seu próprio protagonista, o doutor Bernard Rieux, profissional abnegado que, durante vários meses, sacrifica sua vida social e seu bem-estar em prol dos vários afligidos pela peste cruel que intitula o romance. Entretanto, para além das diversas passagens excelentes que compõem o livro, prefiro ater-me a duas, aquelas que mais me encantaram por sua genialidade existencialista.
No capítulo sexto, um personagem secundário e aparentemente trivial nos é apresentado: “à primeira vista, com efeito, Joseph Grand nada era além do pequeno funcionário municipal que aparentava ser”. Gradualmente, percebe-se o quão crucial este personagem seria para a manutenção do doutor Rieux em sua crença na humanidade, o que pode muito bem ser antevisto a partir do desfecho do parágrafo posterior àquele em que o funcionário da prefeitura fora apresentado: “decerto não era a ambição que fazia Joseph Grand agir, segundo ele assegurava com um sorriso melancólico, e sim a perspectiva de uma vida material assegurada por meios honestos. Conseqüentemente, sorria-lhe a possibilidade de entregar-se sem remorsos às suas ocupações favoritas. Se aceitara a oferta que lhe faziam, fora por motivos dignos e, como se diz, por fidelidade a um ideal”. Não é difícil antever, portanto, que foi a este personagem que mais me afeiçoei e, dado o devido distanciamento pretensioso, me identifiquei, por conta de meu desempenho burocrático bem-intencionado ao longo de dez anos no Departamento de Administração Acadêmica da Universidade Federal de Sergipe...
Mas o livro vai muito além de minhas afeições: o livro fere e alisa, tacha o amor de egoísta e, ao mesmo tempo, o defende como sentimento inabalável, como força-motriz da existência. E, sendo o domingo em que encerrei a leitura do livro o aniversário de uma das pessoas que mais amo no mundo, a minha mãe, fui absolutamente arrebatado por uma passagem do vigésimo oitavo capítulo: “Ele sabia o que a mãe pensava e que nesse momento ela o amava. Mas sabia também que não é grande coisa amar um ser, ou que, pelo menos, um amor nunca é bastante forte para encontrar a sua própria expressão. Assim, sua mãe e ele se amariam sempre em silêncio. E ela morreria por sua vez – ou ele – sem que, durante toda a vida, tivessem conseguido ir mais longe na confissão de sua ternura”. Putz! E eu tremia ao terminar de ler estas linhas pela primeira vez...
Obviamente, fiz questão de dizer à minha mãe que a amo, da mesma forma que faço aos meus amigos mais queridos e às pessoas por quem nutro paixonites que, por mais patológicas que possam parecer, são corruptelas interditas de um amor sincero. O livro me contemplou em sua genial discrição analítica acerca de sentimentos tão poderosos, os quais são arduamente defendidos na surpreendente conclusão da trama. Quando eu contava a história do mesmo a alguém, aliás, comentaram que o modo como a narrativa se desenvolve (uma doença surge de repente, faz com que as pessoas mostrem como realmente são no interior de suas almas e, depois que a epidemia abranda, tudo volta ao normal, ainda que uma normalidade eternamente alterada pelas assunções de caráter manifestas durante uma situação de dor e medo) assemelha-se deveras a obras de José Saramago. Mas entre o tom pessimista e surreal do escritor português e a fé poético-realista do romancista franco-argelino, as ameaças à felicidade contidas nas narrativas do segundo marcam o tom diferencial. E, assim, tal qual o doutor Rieux, eu também sabia que “viria talvez o dia em que, para desgraça e ensinamento dos homens, a peste acordaria os seus ratos e os mandaria morrer numa cidade feliz”. Obra-prima, pura e simplesmente – e eu te amo!
Wesley PC>
Assinar:
Postagens (Atom)