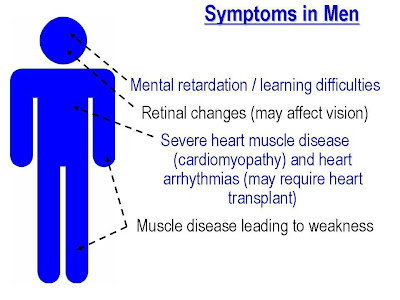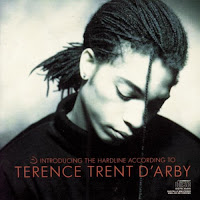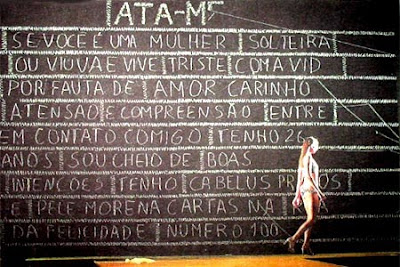Uma vez, quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, fui com minha mãe a uma feira pública. Ela tencionava comprar mocotó, algo que desde pequeno eu desgostava. Ela conversava com a feirante, escolhendo os melhores e mais baratos pedaços do produto, enquanto eu expressava meu desagrado facialmente. Percebendo isto, a feirante disse:
“tua filha está fazendo uma cara tão feia. Ela não gosta de mocotó não?”. Minha mãe, embaraçada, apenas respondeu:
“é ele. Não, ele não gosta!”. E eu fiquei triplamente envergonhado, sentindo que havia de muito errado comigo. Há dois anos que eu já era vítima de atividades sexuais com homens com o triplo de minha idade. Fora criado homossexual e, para tanto, minha aparência física delicada deve ter contribuído sobremaneira. Ao que eu pergunto:
a gênese do homossexualismo é social ou fisiológica? Ambos os efeitos confundiam-se largamente em mim!
Em várias outras situações, minha aparência frágil e minha afetação comportamental levaram-me a ser confundido com uma menina. Era espancado quase diariamente no colégio por causa disso. Fui chamado de “bicha” desde que me entendo por gente, aos 3 anos de idade, quando um pedreiro foi construir um muro em minha casa e mostrou-me seu pênis através da porta do banheiro. E eu gostei de ver aquilo. Tinha algo de errado comigo, mas... Era genético ou eu era socialmente estimulado a isso?
Poderia enumerar dezenas de bifurcações motivacionais antes mesmo de eu completar 12 anos de idade, quando, convertido a um fanatismo católico, intentei abandonar as práticas bissexuais que me eram tão comuns. Cria-me já condenado ao inferno, por infringir um mandamento básico, por ter cometido o pecado imperdoável do desrespeito à castidade. Restava-me tentar atenuar a pena. Para tanto, fui obrigado a abandonar a vida em sociedade. Só saía de casa sob a luz solar para ir para a escola. Mas, no meu íntimo, era atormentado por desejos e práticas masturbatórias de inspiração largamente androfílica, não raro direcionadas às memórias e relances de pentelhos de machos que eu via nos filmes brasileiros que meu irmão mais velho via às quintas-feiras numa sessão televisiva da TV Bandeirantes. Eu era um pecador – e me atormentava todo dia com isto. Tinha a certeza inocente de adolescente de que eu seria preso em breve e de que morreria com AIDS. Minhas esperanças de envelhecer eram exíguas, apesar da vontade inevitavelmente instintiva de que isto ocorresse. E hoje eu tenho 29 anos e sou confundido com homem quando passo pela rua.
Sou um homem! Assistindo, na noite de hoje, ao premiado documentário “The Times of Harvey Milk” (1984, de Robert Epstein), na TV Cultura, eu pensei, por um instante, que tudo poderia ser diferente: e se eu conhecesse a história deste político pioneiro quando ainda era um jovem em desenvolvimento? E se eu tivesse um modelo masculino mais seguro que meu irmão viciado e embrutecido para seguir? E se, ao invés de tapas e socos na escola, eu tivesse com quem conversar, eu tivesse um amigo?
E se...? E, aos poucos, fui emocionando-se violentamente diante deste extraordinário exemplar de cinema e deste brilhante exemplo de política e apelo por igualdade de direitos. Levantei orgulhoso, ao final da sessão, mas, por um lado, era tarde demais para fazer algo.
Por um lado, por um lado apenas. Sempre há tempo de se fazer algo, de se reivindicar, de se exigir direitos básicos e simples condições de vida. Como diria um célebre refrão de The Smiths:
“I am human and I need to be loved, just like everybody else does”! É básico isto, mas… Quão difícil na prática!
Voltando ao filme: telefonei para o máximo possível de amigos com a TV Cultura disponível entre seus canais de TV, temendo que o prazer e orgulho que agora falho em demonstrar no que tange à audiência deste belíssimo documentário não pudesse ser compartilhado dialogisticamente. Em fevereiro, já havia me empolgado sobremaneira diante de “Milk – A Voz da Igualdade” (2008), ótimo filme do militante ‘queer’ Gus Van Sant (vide texto
aqui). Porém, para além de sua funcionalidade discursiva e cinematográfica, este filme filiava-se a um dos gêneros hollywoodianos que eu mais desgosto: a cinebiografia. Entretanto, apesar de minha insatisfação em cenas protagonizadas por Diego Luna ou na encenação melodramática de algumas seqüências (a morte operística do protagonista, à frente), era-me inegável o poder supra-fílmico deste petardo militante. E, ao ver o verdadeiro Harvey Milk em ação, como eu me emocionei e dei mais vazão à genialidade do diretor Gus Van Sant e à perfeita interpretação de Sean Penn: o personagem está igualzinho á figura pública real. Harvey Milk era daquele jeito mesmo. Afetado, reivindicante, sorridente, polemista, apaixonado. Senti um orgulho tardio, mas ainda a tempo: houve alguém que me representou tão bem enquanto individuo potencialmente atrelado a uma classe social, antes mesmo de eu ter nascido. Tremi de orgulho! Genial estória, genial personagem, genial político, genial luta, genial reencontro entre espectador e cinema sentido na práxis!
À medida que “The Times of Harvey Milk” avançava, não somente o filme de Gus Van Sant se tornava ainda melhor, em razão da confirmada supremacia reconstitutiva, o documentário por si mesmo revelava-se um importantíssimo marco histórico de luta por direitos que não deveriam precisar sequer ser exigidos, de tão básicos que são enquanto destinados a qualquer indivíduo. Mas o mundo não é justo como pretendem os idealistas constitucionais. E a soltura antecipada do assassino branco, católico e muito bonito de Harvey Milk só confirmou isto, conforme fizeram alarde os enraivecidos signatários do finado pioneiro homossexual. Descrito, em mais de um momento, como “
o primeiro funcionário público abertamente ‘gay’ dos Estados Unidos da América”, Harvey Milk tornou-se muito mais do que um exemplo para pessoas que passaram pelo que eu passei. E, como sói acontecer com quem luta, foi injustamente morto e injustamente relegado ao segundo plano das ações públicas por manipuladores oportunistas da opinião pública. Até que um gênio o resgatasse... E quem sabe agora, será definitivo? Quem sabe?
Ainda vendo o documentário – que mostra como aconteceram na realidade muitas das situações que constam do espetacular roteiro de Dustin Lance Black – não pude conter uma reação de escândalo diante das medidas absurdas que eram postas em votação pelos conferencistas estadunidenses. A absurda “proposição 6”, que defendia a expulsão inglória de quaisquer professores homossexuais que lecionassem em São Francisco talvez seja a barbaridade mais aberrante, que rende uma cena pública fortíssima, em que a equipe do documentário e alguns militantes aborda um casal de idosos asiáticos e perguntam o que eles acham da referida proposição, de maneira que estes evitam emitir qualquer parecer opinativo, até que o entrevistador lança a ameaça verídica: “se os políticos preconceituosos obtiverem êxito nesta proposição absurda, em breve serão cassados os direitos básicos de outras minorias que vivem nos EUA”. E eu fazia: “
glupt”!
Belíssimo documentário, belíssima história real, belíssimo exemplo política, belíssima reconstituição dramatúrgica. E, de minha forma bastante particular, eu sigo lutando. Mas... Quem sou eu sem apoio ou representatividade? Às barricadas, já e sempre!
Wesley PC>