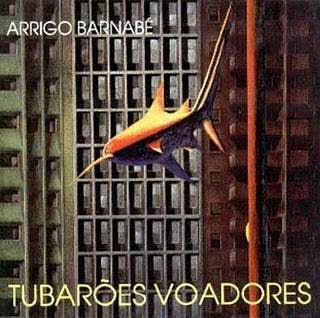Quase duas semanas testemunharam a minha luta em primeira pessoa com “O Apanhador no Campo de Centeio” (1951), livro de J. D. Salinger sobre um rapazola triste e pouco conectado com a sociedade ao redor que se tornou a obra de cabeceira de alguns dos mais famosos assassinos e suicidas estadunidenses. Antes de atirar no cantor John Lennon, por exemplo, em 8 de dezembro de 1980, o aflito Mark David Chapman lia e relia suas passagens favoritas deste livro, que estava em suas mãos quando ele foi capturado pela polícia após cometer o crime que chocou o mundo. Exegetas imediatistas apressaram-se em associar o livro ao tormento psicológico enfrentado pelo assassino, visto que o livro é pungentemente escrito num tom subjetivo e cumulativo que faz com que praticamente sintamos aquilo que o protagonista sente. Eu senti isso também, mas o
detestei: achei o tal de Holden Caulfield tão mimado e aburguesado que não houve possibilidade de identificação. Conclusão:
desgostei solenemente do livro! O que se pode ser dito como equivalente a uma trama literária no livro é dividida em 26 capítulos e passa-se em poucos dias de dezembro de 1949. Holden Caulfield é expulso de sua escola por causa de seu mau desempenho acadêmico e hesita em voltar para sua casa, não obstante nutrir um afeto destacado por sua irmãzinha Phoebe. Um dos irmãos de Holden falecera de leucemia e outro trabalhava como roteirista em Hollywood. Seus pais eram ricos e, apesar de não ir bem na disciplina de Literatura, Holden gostava muito de ler. Numa de numas passagens favoritas, ele descreve o que o livro autobiográfico “A Fazenda Africana” (1937), da dinamarquesa Isak Dinesen, lhe causava um estranho prazer, mesmo tendo sido pego por engano na biblioteca. Dizia Holden,
“eu sou bastante iletrado, mas leio muito”. Era o que o redimia enquanto personagem minimamente interessante para mim...
Enquanto tinha eventuais casos amorosos com namoradinhas do passado e um frustrante embate com um prostituta juvenil e um cafetão bonachão, Holden Caulfield arquitetava maneiras de encontrar-se com sua irmã sem precisar gastar tempo ao lado de seus pais. Ele queria entregar um dinheiro natalino a ela, queria compartilhar um chapéu vermelho repleto de nostalgia. A garotinha, porém, é uma criança e, como tal, reage imediatamente a qualquer gesto de Holden. E aí está o primeiro grande problema (muito verossímil) de sua composição personalística: tudo “o mata”! A garotinha vira de costas para ele num carrossel, e isto
o mata; um atraente colega de quarto gasta mais tempo penteando o cabelo, e isto
o mata; um professor que morava perto de sua residência familiar o desperta, no meio da madrugada, alisando a sua cabeça, e isto
o mata... Sem contar que tudo é comparado ao inferno, tudo o faz sentir como se fosse um louco: definitivamente, Holden Caulfield é a
epítome do tédio burguês, alguém que me incomodou bastante por ter estado tão próximo dele por quase duas semanas!
Os potenciais clímaxes do livro são, em verdade, píncaros psicológicos, relacionados à profunda depressão que Holden experimentava nalgumas situações (vide o seu desespero depois que se sente sexualmente molestado por seu professor ou um episódio anterior em que discute “Romeu e Julieta”, de William Shakespeare, com algumas freiras e acha-as indignas de discutir o amor romântico entre adolescentes) ou à felicidade tênue mais igualmente extremada que o toma de assalto sempre que está ao lado de sua irmãzinha. Analisando estes píncaros objetivamente, é fácil entender porque ele assume as vezes de auto-ajuda especializada para pessoas atormentadas por sua inadequação ao mundo, desde que as mesmas sejam propensas ao tédio. Não é o meu caso e, muito menos, foi o meu caso durante a leitura do livro, que se revelou o contrário de ansiosa nalguns momentos. Por mais que, volta e meia, alguma passagem do livro fosse digna de ser escrita na minha agenda pessoal (exemplo:
“maldito dinheiro. Ele sempre acaba fazendo tu te sentires triste como no inferno”, ao final do capítulo 15), o momento egrégio do romance é mesmo o aforismo do psicanalista Wilhelm Stekel que o professor Antolini (casado com uma mulher bem mais velha do que ele, o que causava espanto, mais uma vez, para os constantes julgamentos valorativos de Holden sobre as vidas de outrem) lhe direciona cautelosamente no capítulo 24: “
a marca registrada do homem imaturo é que ele quer morrer nobremente por uma causa, enquanto que a do homem maduro é que ele quer viver humildemente por uma”. Apesar de bonito, talvez eu não tenha recebido muito bem esta citação, ao menos no contexto dúbio e titubeante em que ela foi apresentada...
Mas, segui em frente: apesar de ter desgostado tanto do personagem principal que cri que também desgostei do livro, entre um e outro capítulo eu tentava viver. Comia, sorria, via filmes, ouvia canções, abraçava minha mãe, cheirava a cueca preta melada de sêmen alheio que estava estendida no varal de um vizinho, enviava mensagens de celular para pessoas que amo, ficava imaginando como eu transmitiria minhas reações ao grande amigo que me emprestou o livro... Numa cena potencialmente discursiva, Holden tenta apagar os vários FODA-SE escritos na parede do colégio onde estudava a sua irmã. Não consegue. Aí, num momento conclusivo posterior, ele fala algo que quase o redime: “
nunca conte nada a ninguém. Se tu o fizeres, tu começas a sentir falta de todo mundo”... Foi aí que eu tive certeza de que eu e ele somos irreconciliavelmente diversos.
Coisa rara:
não houve identificação, eu o detestei. Talvez eu não tenha habilidade para ser um assassino atormentado... Menos mal?
Wesley PC>
 “A Caçada” (2007, de Richard Shepard), título brasileiro para “The Hunting Party”, é um daqueles filmes que todo jornalista e/ou estudante de Jornalismo deve ver. Incomodou-me muito por confundir-se formalmente com o desdém que critica, mas, ainda assim, chama a atenção (vide o ótimo estratagema sarcástico apresentado logo no início – vide título desta postagem). Tive vontade de Vê-lo muito mais por causa da presença do Jesse Eisenberg (que está apagadinho aqui) do que pelo tema em si, que é sempre muito pertinente e digno de avaliação conscienciosa.
“A Caçada” (2007, de Richard Shepard), título brasileiro para “The Hunting Party”, é um daqueles filmes que todo jornalista e/ou estudante de Jornalismo deve ver. Incomodou-me muito por confundir-se formalmente com o desdém que critica, mas, ainda assim, chama a atenção (vide o ótimo estratagema sarcástico apresentado logo no início – vide título desta postagem). Tive vontade de Vê-lo muito mais por causa da presença do Jesse Eisenberg (que está apagadinho aqui) do que pelo tema em si, que é sempre muito pertinente e digno de avaliação conscienciosa.