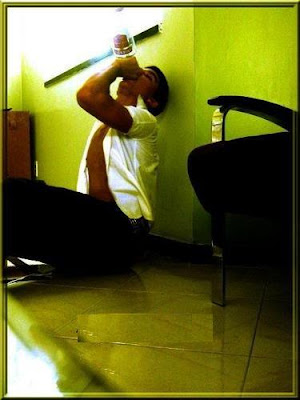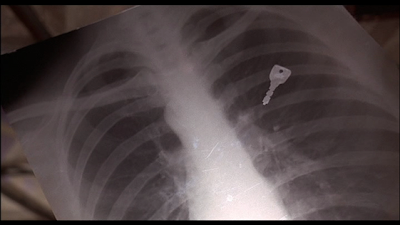Na noite de ontem, um dos rapazes que eu mais achava bonito em 2000 me visitou no trabalho, também perguntando-me questões de trabalho. Estava gordo, com cara de velho (apesar de ser um 5 anos mais jovem que eu), visivelmente perturbado no plano psicológico. Pedia que eu o tratasse como se não o conhecesse e depois me fazia perguntas sobre o que eu achava que ele deveria fazer com sua vida acadêmica. Perguntou-me como se faz para cancelar definitivamente o vínculo com a universidade e, segundos depois, pediu que eu encontrasse uma disciplina eletiva com vagas disponíveis, a fim de que ele não fosse desligado da UFS. Antes ele era aluno de Jornalismo e meu amigo, tendo me carregado consigo a algumas sessões espíritas ‘lato sensu’; hoje, ele é estudante de Psicologia, tem medo de mim e se sente um inútil. Definitivamente, a passagem dos anos não lhe fez bem. Fiquei com pena, tentei ajudá-lo, ofereci-lhe o número de celular, caso ele quisesse conversar comigo depois, mas ele ficou andando em círculos (literalmente!) por alguns instantes e recusou a minha oferta. Fiquei tomado pela compaixão e pela impotência: ele era um amigo, ele era um rapaz bonito, ele era tão inteligente e empolgado... E hoje... Quem sou eu para julgar?!
Na noite de ontem, um dos rapazes que eu mais achava bonito em 2000 me visitou no trabalho, também perguntando-me questões de trabalho. Estava gordo, com cara de velho (apesar de ser um 5 anos mais jovem que eu), visivelmente perturbado no plano psicológico. Pedia que eu o tratasse como se não o conhecesse e depois me fazia perguntas sobre o que eu achava que ele deveria fazer com sua vida acadêmica. Perguntou-me como se faz para cancelar definitivamente o vínculo com a universidade e, segundos depois, pediu que eu encontrasse uma disciplina eletiva com vagas disponíveis, a fim de que ele não fosse desligado da UFS. Antes ele era aluno de Jornalismo e meu amigo, tendo me carregado consigo a algumas sessões espíritas ‘lato sensu’; hoje, ele é estudante de Psicologia, tem medo de mim e se sente um inútil. Definitivamente, a passagem dos anos não lhe fez bem. Fiquei com pena, tentei ajudá-lo, ofereci-lhe o número de celular, caso ele quisesse conversar comigo depois, mas ele ficou andando em círculos (literalmente!) por alguns instantes e recusou a minha oferta. Fiquei tomado pela compaixão e pela impotência: ele era um amigo, ele era um rapaz bonito, ele era tão inteligente e empolgado... E hoje... Quem sou eu para julgar?! Dormi incomodado com este encontro, ainda que não o admitisse a mim mesmo, e, ao despertar na manhã de hoje, assisti ao longa-metragem animado “Leitão – O Filme” (2003, de Francis Glebas), sobre o reconhecimento tardio dos feitos heróicos do pequenino personagem-título, que sempre está lá para corrigir as trapalhadas de seus amigos: o desastrado e guloso Ursinho Puff, o histriônico Tigrão, o arrogante coelho Abel e o lamentoso burrico Bisonho (*observação: utilizo os nomes abrasileirados dos personagens, conforme fui acostumado a partir da dublagem da série animada a que eu assistia na infância). No filme, Leitão se sente tão diminuído pela empolgação alheia que demora a perceber que, mesmo sendo pequenino, pode ajudar muito aos outros. E, ainda que o filme não seja bom, é como se ele estivesse me enviando um sinal: ao meu redor, as pessoas estão precisando de ajuda. Estão tão tristes e enfeados por causa dos problemas que eu pergunto: o que eu posso fazer para que eles não continuem a se degradar assim? E se estiver acontecendo o mesmo processo comigo, meu Deus?! Socorro!
Wesley PC>